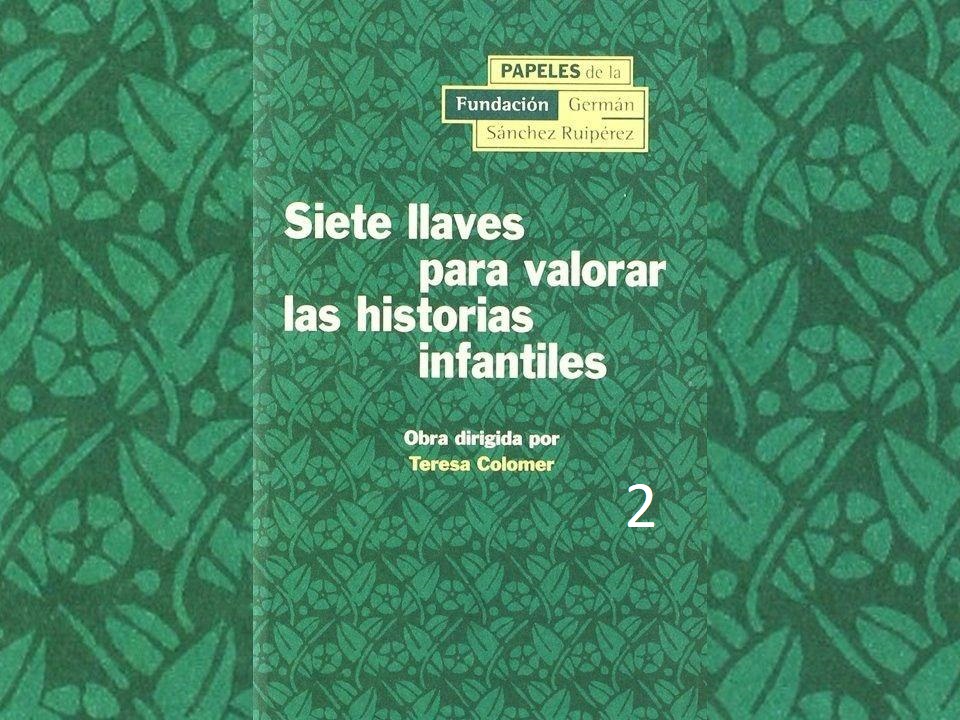
Imagem de capa. Livro “Siete llaves para valorar las historias infantiles”, organizado por Teresa Colomer.
Resenha escrita por Fabiana Pedroni.
Referência completa do livro resenhado: COLOMER, Teresa (org.). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid:Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002.
O livro organizado por Teresa Colomer estabelece sete chaves para atribuir valor ao livro infantil. Na parte 1, falamos sobre a primeira chave, que está na relação entre texto e imagem nos livros ilustrados, principalmente para os primeiros leitores. No final deste post você encontra o link para a próxima chave!
***
Segunda chave: Como entramos em um livro?
A segunda chave, trabalhada no capítulo 2, “[…] imagina o itinerário de um leitor que se familiariza cada vez mais com a maneira como as histórias se desenrolam em nossa cultura. Um itinerário em que as histórias podem ser mais longas e mais complexas e podem adotar ‘moldes’ cada vez mais variados na medida em que se aumenta a capacidade das crianças de segui-las sem se perderem” (p.13). Quer dizer, a segunda chave tem como centro a forma narrativa, o modo como as crianças aprendem histórias mais complexas e compridas. Nesta chave, é preciso compreender as distintas formas de se entrar na história (início), de se permanecer dentro dela (organização da narrativa) e de se sair da história (o final).
Neste capítulo trabalha-se os seguintes quatro livros: El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, de Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch; Historias de ratones, de Arnold Lobel; La maravillosa medicina de Jorge, de Roald Dahl; e Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K.Rowling.
Há três propósitos para os inícios, assinalados por Teresa Colomer (2000):
“1. Oferecer informação aos leitores para que entendam o pacto de narração que se estabelece” – informações de que voz narrativa conta a história, qual o mundo de ficção (marco de tempo e espaço que devem imaginar, talvez até mesmo personagens), e que modelo narrativo se adota. (p.42-43)
“2 Alcançar o leitor, motivá-lo para a leitura, assegurando-lhe que vale a pena continuar adiante”. (p.43) O início vai fornecer algumas informações, mas mostrar lacunas que serão preenchidas depois (atiçar curiosidade); ou vai assinalar um tema de grande interesse e que precisará continuar a leitura; ou impactar o leitor com algo insólito, divertido, terrível que prometa sentimentos intensos; ou recorrer a um argumento de autoridade e dizer que a história nasce para ser contada e precisa ser lida; ou, ainda, surpreende o leitor com uma declaração inicial incompreensível, colocada como um desafio a ser vencido.
“3. Criar situação para unir o tom com o que se explicará da história” (p.43). É necessário ter determinado tempo para se adaptar ao ritmo da escrita, ao que se quer tratar. Muitas vezes uma criança ou adolescente abandona um livro, não porque ele o achou chato, mas porque não teve tempo suficiente para se adaptar.
Mesmo que se atenda a estes princípios, há alguns problemas que um livro infantil pode apresentar:
– Fornecer pouca informação pode atiçar a curiosidade, mas a ausência excessiva pode cansar o leitor numa busca extensa;
– Se fornecer muita descrição do mundo de ficção, sem que se tenha uma conexão significativa, o leitor pode perder-se;
– Pode ser que a obra se esforce muito para situar o leitor, acolhê-lo, mas pode ser que ela não seja interessante para ele;
– Pode ser que uma obra exija uma participação da qual o leitor não está habituado, como se exigir demais de um leitor no início e desestimulá-lo.
Uma vez dentro da narrativa, é preciso manter o leitor em meio à leitura. “No desenvolvimento da narrativa é fundamental a relação que o autor estabelece entre aquilo que deseja contar (a história) e o modo com que há decidido contar (o discurso)” (p.44). Essa harmonia é importante para que o leitor se mantenha dentro do livro e para que isso aconteça, o autor deve estar atento à seleção de estruturas para a narrativa. Por exemplo, em El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, utiliza-se uma estrutura circular, muito usada em livros infantis, em que uma sequência se repete várias vezes, com algumas variações. A repetição ajuda a memorização e a fazer a estrutura previsível. A criança se sente parte da narrativa, interessada com sua capacidade de previsão, até que se surpreende com uma ação e ela se torna ainda mais cativada.
Na organização da narrativa, que mantém o leitor dentro, é preciso pensar nas pausas, no tempo que o leitor precisa para assimilar as informações, seja por divisões em capítulos, partes sequenciais, uma repetição que preveja esse tempo de respiro do leitor (p.48)
Na organização da narrativa, há três maneiras distintas de unir várias histórias, segundo Todorov (1970):
- Encadeamento: um começa quando outro termina (às vezes com recursos de semelhança)
- Intercalação: Uma história se intercala na outra, como quando um personagem conta a outro uma história da qual ele não sabia.
- Alternância: implica narração simultânea de duas histórias, em que se salta de uma a outra sucessivamente (exige mais maturidade de leitura)
“De toda forma, o leitor precisa compreender as relações entre as distintas histórias de uma mesma obra para estabelecer o tipo e nexo e hierarquia que há entre umas e outras e construir o sentido da narrativa” (p.50).
Façamos uma pausa para acrescentar criticamente um ponto que não aparece na obra das Sete chaves, de Teresa Colomer (org.), mas que se relaciona diretamente à apreensão da organização narrativa. Para se trabalhar diferentes histórias em uma mesma obra, é preciso que o leitor compreenda conceitos fundamentais do saber histórico, trabalhados pela disciplina histórica, que nos permitem a compreensão do tempo. Em uma narrativa literária mais complexa, em que a história de um personagem secundário se desenvolve paralelamente e depois se integra à narrativa central, o leitor precisa compreender os sentidos de anterioridade, posteridade e simultaneidade, quer dizer, o que aconteceu antes de um ponto, depois de um ponto e ao mesmo tempo de um ponto. Se em uma página um personagem secundário deixou sua casa, na próxima ele pode não chegar na casa do personagem principal, porque algo aconteceu enquanto acompanhávamos a história de outro personagem. Dito isso, este leitor que compreende o tempo, perceberá, na organização da narrativa, aquilo que se destaca, que se torna principal, diferente do que é secundário, e terá a capacidade de compreender o cruzamento das histórias.
Para se manter o leitor na obra, é preciso que haja intriga (p. 51), “Deve existir uma tensão entre a sequência lógica, necessária para a coerência de um relato, e a previsibilidade excessiva, que eliminaria o interesse.”. Para manter o interesse do leitor, é preciso que ele se faça perguntas “o que vai acontecer agora?”, “quem fez isso?”, e o atraso da resposta, segundo David Lodge, mantém esse interesse. Mas é preciso dosar, para que não se torne uma repetição cansativa. É preciso dar pistas, indícios que ajude na resolução do enigma (p.52). “É importante advertir que os indícios podem ser facilitados diretamente por afirmações do narrador ou dos personagens (ou da ilustração), ou podem ter que ser deduzidos por inferência do leitor” (p.53). Quando se trabalha um texto literário, há que se considerar se o público leitor que se quer atingir possui a bagagem necessária para se fazer uma inferência prevista ou se ele se perderá na narrativa, não a alcance. Novamente, o autor precisa estar atento ao que ele exige do seu leitor.
Para finalizar, sobre o do meio do livro, cita-se os problemas da organização (pp. 56-57):
– Uma história sem consistência narrativa pode trair a expectativa do leitor com algo que não se mereça ser relatado;
– Pode-se adotar uma estrutura conhecida que salve a história, mas que em nada acrescente ao leitor;
– Pode ser que uma narrativa convencional se disfarce de experimentação “modernosa”, mas o leitor pode perceber que não há nada de interessante e novo;
– Pode ser que uma obra falhe nas proporções de sua estrutura, se estenda muito em umas partes e seja rápida demais em outras, a liquidar parte da ação e tensão, e isso venha a frustrar o leitor;
– Pode ser que a cadeia de fatos não possua uma lógica interna, em que causas e consequências não sejam coerentes e o leitor não aprecie o universo narrativo criado;
– Pode ser que uma obra não saiba nivelar, espaçar ou ocultar as intrigas e isso afaste o leitor que não se sente motivado a participar da leitura, não se sinta envolvido;
– Pode ser que as descrições devorem a ação e o leitor durma no meio da leitra;
– pode ser que a narrativa se torne um roteiro cinematográfico e o leitor não saiba que é literatura;
– Pode ser que a organização use elementos de distintos níveis de complexidade e não adequados ao público alvo, como histórias complexas para a primeira infância que não fazem uso de estruturas próprias para o aprofundamento de um discurso de crianças novas, mas use a complexidade temporal própria de crianças maiores.
Depois de seduzido no início, cativado para permanecer dentro, é preciso trabalhar o final da história. “O final das histórias é um elemento decisivo de duas maneiras: para dar sentido à narração, tornando conhecido como o conflito, levantado no início, foi resolvido e provocar a reação emocional do leitor, sancionando, em muitos casos, o sentido moral da história. ” (p.57). Mas, há também obras que deixam o final em aberto. O uso de um final negativo não é tão comum para se terminar uma história na literatura infantil, pois “supõe uma frustração impactante das expectativas criadas (p.59). Negativo “tanto para as intenções do personagem como para o leitor identificado com ele ” (p.59), mas que pode ter intenções de trazer o humor, a raiva ou conscientização do leitor.
Se há problemas no início e no meio de uma narrativa que devem ser considerados para avaliar um livro, claro que o final também teria suas especificidades (pp. 60-61):
– Pode acontecer que um final aberto ou negativo não possa ser assimilado psicologicamente por uma criança e os adultos responsáveis se revoltem ou não saibam como lidar com a questão em mediação;
– Pode ocorrer que as narrativas que trazem exemplos, que ditam diretamente ao leitor como se deve se comportar, não surta efeito no leitor, visto que ele muitas vezes é imune a esse tipo de lição de vida, mas é aberto à capacidade da literatura de explorar conflitos humanos;
– “Pode ocorrer que o final contradiga a mensagem moral da obra” (p.60) e o leitor se sinta confuso;
– Pode ser que um final traga uma solução não aprovada socialmente, cabendo ao adulto decidir se deve selecionar a obra e se o fizer, como discutirá o final após a leitura;
– Pode ser que uma obra abra muitos conflitos e não os finalize, fiquem soltos, e seja preciso fazer várias manobras para forçar um fim. O leitor terá estafa;
– Pode acontecer que o final seja tão previsível que isso desestimule o termino da leitura.
Afinal, não é porque se está perto do fim, que você lerá até a última palavra ou imagem.
Para acessar a próxima chave, clique aqui!

Pingback: [resenha] Siete llaves para valorar las historias infantiles, parte 7 – NOTA manuscrita
Pingback: [resenha] Siete llaves para valorar las historias infantiles, parte 1 – NOTA manuscrita
Pingback: [resenha] Siete llaves para valorar las historias infantiles, parte 3 – NOTA manuscrita